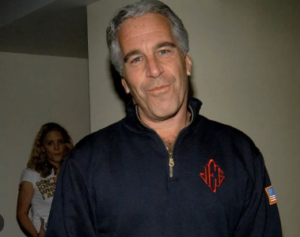Há dias, Miguel Sousa Tavares, na sua habitual prosa de deboche e pretensa superioridade intelectual, dizia ter ficado impressionado com a direita, por esta achar que possuir a nacionalidade portuguesa é um privilégio raro. Pois sim, meu caro Miguel Sousa Tavares, ser português é, de facto, um privilégio raro – mas privilégio que não se ostenta, sente-se. É algo que corre nas veias. É o murmúrio discreto de uma herança que não se explica, apenas se reconhece. Para senti-lo, é preciso deixar que o sangue fale – e o sangue, ao contrário da ideologia, não mente. Ele traz a memória dos que labutaram antes de nós, dos que amaram a terra e os mortos, dos que acreditaram que o destino de um povo é uma extensão da sua alma.
E é precisamente essa alma que já não habita os corredores onde hoje se fala de Portugal em tom burocrático, como se a pátria fosse um incómodo sentimental, uma poeira romântica que é preciso varrer do discurso público. O objectivo, disfarçado de humanismo, é simples: dissolver a identidade numa massa intercambiável, sem raízes nem memória, fácil de governar porque nada lhe pertence. A nacionalidade, que outrora implicava dever, lealdade e herança, converteu-se em simples formalidade administrativa, um contrato de conveniência entre indivíduos e instituições. E é assim que o que era destino se transforma em burocracia e a pátria é espezinhada por balcões de atendimento ao serviço das vantagens imediatas.
MST não o entende, nem pode entendê-lo. Vive confinado ao mundo das elites urbano-depressivas que, ao longo dos anos, se convenceram de que são o cérebro da nação, quando já há muito deixaram de ser sequer o seu coração. Falam de “modernidade” e “progresso” como quem fala de dogmas religiosos; erguem altares à razão e à ciência, mas já não distinguem virtude de vaidade. Acreditam governar em nome da luz, mas vivem mergulhados e estagnados na sua própria sombra. Talvez não se tenha dado conta de que o país real – o que trabalha, o que se reinventa, o que sofre – não cabe nas suas colunas de opinião. Esse país, que trata com condescendência, não lê os seus editoriais.
Mas voltemos às suas diatribes. No ritual habitual de repúdio ao Estado Novo, MST descreve-o como corrupto até à medula. Curiosamente, as palavras que usa – “cunha”, “palavrinha” – soam tão familiares que se confundem com o léxico do presente. Ambas personificam de forma exemplar a mediocridade reinante, a vulgaridade triunfante e a imundície elevava a forma de governo desta III República.
Há, no seu discurso, uma nostalgia invertida: inveja as figuras que despreza, porque sabe que não tem nem metade da estatura moral que elas tinham. Quando chama Salazar de “velho abutre”, não fala de história – fala de si mesmo e dos seus pares, herdeiros de privilégios sem mérito, depositários de uma glória que nunca conquistaram. A antiga aristocracia podia ser distante, mas tinha sentido de dever e noção de limite. As novas elites, essas, são aristocratas sem nobreza: herdaram os salões, mas perderam o pudor; mantêm a pose, mas esqueceram o propósito.
Eis o drama do nosso tempo: a elite já não é elite, é apenas classe dominante. É gente que confunde o sucesso herdado com a virtude, o cosmopolitismo com inteligência, o moralismo com bondade. Instalou-se uma religião laica, feita de boas intenções e más consciências, em que o dogma principal é este: o povo é perigoso, e deve ser educado ou silenciado.
É por isso que MST detesta as redes sociais: são espaços em que o povo debate, confronta, desabafa, satiriza e pensa sem pedir licença aos seus superiores morais. O que o inquieta não é a desinformação, é a desobediência, a insubmissão. Há muito tempo que as famigeradas redes sociais são um espinho cravado na garganta de MST, que não perdoa o desplante de todos aqueles que não necessitam de arbitragem deste virtuoso e de outros da sua igualha, mas, mais do que isso, que a rejeitam categoricamente.
As redes sociais quebraram o monopólio da verdade, e isso é insuportável para quem sempre viveu do privilégio de decidir o que o povo devia pensar e apoiar. Nas suas crónicas, percebe-se a frustração de quem já não é ouvido com a reverência de outrora. Ele e os seus pares acreditavam que a palavra pública lhes pertencia por direito natural, como se fossem herdeiros de um título invisível e de uma autoridade tácita. Agora, confrontados com a insubordinação digital, agitam fantasmas de censura, não porque estejam a ser silenciados, mas porque já poucos os seguem e ouvem com a reverência e encanto de antigamente.
Daí o ódio ao Chega e ao seu eleitorado. Não porque sejam um perigo, mas porque são um espelho que devolve às elites a imagem do seu fracasso. O Chega é o sintoma de uma verdade que não querem encarar: o povo cansou-se de pedir desculpa por existir. Cansou-se de ser tratado como um menor de idade político, eternamente tutelado por moralistas que já não acreditam em nada, a não ser na sua própria superioridade. O mais trágico é que acreditam sinceramente na sua missão civilizadora. Não percebem que o seu moralismo é apenas a forma moderna da velha decadência: elites que se acreditam virtuosas enquanto o país afunda. A história é generosa em ironias – e talvez a maior seja esta: os que se vêem como salvadores acabarão lembrados como os últimos decadentes de uma era de mentira.
Mas há sinais de que algo desperta. Quando as elites se contorcem, é porque o chão começa a fugir-lhes. Quando o povo recupera o direito de nomear o que sente, de dizer “basta” e de afirmar o seu lugar, a história recomeça.
Não é fúria, é dignidade. Não é nostalgia, é reencontro. A voz do sangue é o eco de séculos que ainda ressoam em nós, por mais que tentem abafar o cântico com moralismos cosmopolitas e cinismos televisivos. E por isso, sim, Miguel Sousa Tavares, ser português é um privilégio raro que não pode ser devassado, pois dá acesso a uma tradição viva transmitida através das gerações.