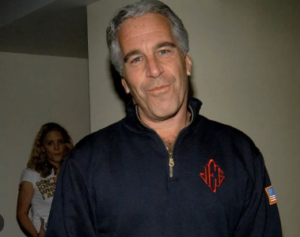Portugal acaba de reconhecer a Palestina como Estado, num gesto profundamente imprudente.
Reconhecer um Estado exige, em Direito Internacional, que esse ente cumpra os critérios clássicos: população permanente, território definido, governo efetivo e capacidade de se relacionar com outros Estados, os chamados “critérios de Montevideu”.
Estes não são caprichos académicos: são o mínimo para que o reconhecimento não seja mera proclamação ideológica.
Hoje, na realidade fragmentada entre Gaza e Cisjordânia, sob disputa territorial e com governos rivais (incluindo uma organização terrorista), tais requisitos estão longe de estar assegurados.
Os defensores da medida dirão que é “simbólica” e que aproxima a paz.
Mas símbolos errados, na hora errada, produzem incentivos errados. Espanha, Irlanda e Noruega avançaram em 2024 — nada mudou no terreno. Pelo contrário, o conflito agravou-se.
Agora, a decisão portuguesa chega em bloco com outras capitais ocidentais, apresentada como impulso à “solução dos dois Estados”.
Essa leitura ignora o essencial: não há Estado viável sem autoridade única, sem controle territorial coerente e sem compromisso inequívoco com a segurança de Israel — condição sine qua non de qualquer paz.
Reconhecer antes de garantir essas pré-condições arrisca transformar Lisboa num mero seguidor de ventos diplomáticos, trocando prudência por aplauso fácil.
Há ainda um risco interno que a boa consciência costuma varrer para debaixo do tapete.
A retórica que romantiza a violência do Hamas como “resistência” infiltra-se nas universidades e nas ruas, promovida por ideólogos que confundem compaixão com indulgência perante o terror.
Essa moralidade seletiva — piedosa na forma, cínica no efeito — torna a sociedade vulnerável à barbárie do extremismo islâmico, travestida de causa justa.
Identificá-la e rejeitá-la é dever cívico, antes que reste apenas o sangue.
Que fazer, então? Reafirmar sem ambiguidades: dois Estados, sim — mas condicionados à existência de autoridade palestiniana unificada e legitimada, total desarmamento de grupos terroristas, ao reconhecimento explícito do direito de Israel existir em segurança, e a acordos fronteiriços exequíveis e garantidos.
Diplomacia séria não corre atrás de hashtags.
Reconhecer um Estado que, por ora, não o é — nem em lei, nem em facto — não aproxima a paz: apenas afasta a verdade.
Custa aceitar que a classe política portuguesa, quase por inteiro, se tenha deixado arrastar nesta enxurrada de humilhação europeia, sacrificando princípios de Direito Internacional em nome de um simbolismo ideológico vazio.
O reconhecimento, por Portugal, de uma entidade controlada por terroristas, que não reúne nenhum dos requisitos mínimos para ser considerada um Estado é um gesto fútil e pretensamente moralista.
Esta decisão não pode ser lida apenas à luz da situação de Gaza ou da Cisjordânia, e ignora uma estratégia mais ampla, na qual se articulam atores hostis ao bloco ocidental, como o Hamas, a Irmandade Muçulmana, o Hezbollah, os Houthis e o Irão.
Portugal, ao alinhar-se com este gesto simbólico, coloca-se do lado errado da História.
O precedente é gravíssimo: transmite-se à Europa e ao mundo a mensagem de que a brutalidade compensa, enfraquecendo os setores moderados e fortalecendo os radicais que vivem da instabilidade.
Consagrou-se o terrorismo como instrumento eficaz de conquista política e eleva-se a violência a ato fundador de novos Estados
É uma vergonha que marcará a diplomacia nacional e um sinal indelével da fraqueza do atual Governo.