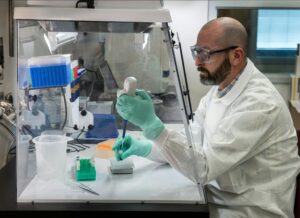Há um momento em que insistir nos mesmos instrumentos deixa de ser gestão e passa a ser negação. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiu esse ponto de não retorno. Hoje, o Estado continua a produzir relatórios, despachos e planos sazonais como se o sistema possuísse ainda alguma margem de manobra, quando a realidade no terreno demonstra exatamente o inverso: escassez, exaustão crónica e uma incapacidade estrutural que já não se resolve com cosmética nem com decretos desenhados em gabinetes distantes da realidade.
O problema não reside na falta de documentos estruturantes. O problema é planear considerando para uma capacidade instalada que não existe, alimentando uma máquina burocrática que ignora o sofrimento real e cria um universo paralelo. Enquanto nos gabinetes ministeriais se desenham planos perfeitos, nos corredores hospitalares pratica-se uma clínica de catástrofe.
A evidência oficial não deixa dúvidas; o que falha, sistematicamente, é a leitura política que se faz dela. O governo lê episódios transitórios onde os relatórios descrevem uma falência funcional prolongada. O Relatório Anual sobre o Acesso a Cuidados de Saúde no SNS – 2023 não deixa margem para eufemismos: os tempos de espera disparam, o incumprimento dos prazos de resposta máxima garantida tornou-se a norma e a pressão sobre os serviços asfixia a prestação de cuidados de saúde. Isto não é uma fotografia isolada de um “ano mau”. É um padrão. Ano após ano, os indicadores degradam-se ou estagnam em níveis incompatíveis com a promessa de um serviço universal. A narrativa oficial de que “o sistema está sob pressão” já não serve; o sistema não está sob pressão, está em processo de desagregação acelerada.
O SNS perdeu músculo e falha repetidamente no acesso. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é perentória: no final de junho de 2024, mais de 30% dos utentes em espera para primeira consulta já tinham ultrapassado o Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG). Seis meses depois, a situação agravou-se: 902.814 utentes aguardavam a primeira consulta e, destes, uns brutais 55,3% estavam já fora do prazo legal.
Não estamos perante uma “oscilação” ou um “pico” de procura. Estamos perante uma tendência consolidada de rutura que hipoteca a confiança dos cidadãos no SNS.
Do ponto de vista da sustentabilidade, o cenário é igualmente sombrio. O Conselho das Finanças Públicas (CFP), ao analisar o desempenho de 2024, expõe um sistema onde o aumento de financiamento não estanca as fragilidades. Injetar dinheiro num modelo organizativo esgotado não resolve o problema central: a crise da força de trabalho.
É aqui que a política de curto prazo colide com a realidade. O relatório Health at a Glance: Europe 2024 (OCDE/Comissão Europeia) alerta para um défice de 1,2 milhões de profissionais de saúde na Europa. Portugal não é exceção, mas agrava o cenário com uma incapacidade crónica de retenção. O Country Health Profile 2025 confirma que, no início deste ano, 1,6 milhões de portugueses (15% da população) não tinham médico de família. Isto não é uma “perceção”; é um dado oficial que valida a fragilidade da capacidade instalada.
Perante este quadro a pergunta que se impõe é: porque continua o Governo a legislar como se o SNS tivesse uma robustez que não tem?
A política da contingência permanente
A resposta do Governo à degradação do acesso tem sido invariavelmente a mesma: burocracia. Planos sazonais, despachos de “emergência” e exigências administrativas que assentam numa premissa falsa, a de que o SNS tem recursos escondidos que apenas precisam de ser “melhor organizados”.
Não tem.
O Plano para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Inverno 2025/2026 é o epítome desta lógica de ficção administrativa. O documento exige contingências, reforços e articulação em rede, assumindo que o problema é de coordenação. Define gestão de camas e integração operacional, o que na prática implica mais horas e mais equipas. O plano ignora, contudo, a condição sine qua non para a sua execução: pessoas. Em demasiados pontos do país, já não existe capital humano para cumprir o que o plano determina.
O Despacho n.º 14212-A/2024, que cria o ” Plano de Emergência e Transformação na Saúde”, apresentado como solução estrutural, falha matematicamente ao não identificar a origem dos recursos humanos necessário, revelando ainda mais a impotência da tutela. Determina a criação de vagas, o alargamento de horários (incluindo fins de semana) e a “operacionalização de camas dependendo dos recursos humanos disponíveis”. Sem o dizer abertamente, o texto admite o essencial: governar o SNS transformou-se num exercício de gerir a escassez por decreto.
Quando se normaliza a contingência, esta deixa de ser exceção e torna-se método de governo. E as consequências são devastadoras. Quando os serviços vivem em modo de sobrevivência estamos, na prática, a hipotecar a qualidade dos cuidados de saúde e quem paga a fatura são os utentes.
Mandar abrir horários sem reforçar equipas paga-se em exaustão e desistência profissional. Dar prioridade absoluta à urgência sacrifica a atividade programada, engrossando as listas de espera que entopem o sistema a jusante. “Operacionalizar camas” sem enfermeiros e médicos para as acompanhar é criar uma ilusão contabilística: a cama existe fisicamente, mas não assistencialmente. E quando o Estado normaliza a contratação de “camas no exterior”, está implicitamente a assinar a certidão de incapacidade do SNS, comprando tempo e fragmentando cuidados.
Isto não é resiliência. É sobrevivência administrativa.
A urgência como o tampão de todas as falhas
Não é coincidência que a produção legislativa se concentre nas urgências. A urgência é o local onde a maquilhagem do sistema derrete. É o “sintoma” final de todas as patologias do SNS.
Se os cuidados de saúde primários não respondem, o doente vai à urgência. Se a consulta hospitalar demora um ano, o doente agudiza e volta à urgência. Se a cirurgia é adiada, o problema regressa pela porta da urgência. O Estado tenta gerir este colapso criando circuitos paralelos, mas a urgência não colapsa por falta de triagem. Colapsa por excesso de afluência decorrente da perda de capacidade global do sistema.
Não nos iludamos: quando a urgência se torna a única porta aberta, a prevenção definha. E um sistema de saúde que abandona a prevenção para se focar exclusivamente no tratamento agudo é um sistema financeiramente insustentável e socialmente injusto. Estamos a transformar o SNS numa enorme sala de espera onde o socorro chega sempre tarde demais.
A urgência tornou-se o último tampão, o para-choques de um SNS que falha na sua missão regular. E enquanto as equipas vivem no limite da exaustão, pede-se aos portugueses que confiem porque “há um plano”. Mas planos não produzem médicos, não clonam enfermeiros, nem inventam técnicos.
A raiz ignorada: quem cuida de quem cuida?
Nenhum sistema de saúde funciona sem pessoas. E nenhum profissional qualificado permanece num sistema que lhe oferece imprevisibilidade, estagnação e desrespeito.
O problema do SNS deixou de ser apenas organizacional; é um problema de atratividade. A capacidade de reter talento depende de fatores que o Governo insiste em tratar como secundários ou “corporativos”: carreiras dignas, vínculos estáveis, progressão previsível e condições de trabalho humanas.
Convém desmistificar o argumento: esta questão não é sindical, é clínica e ética. Um SNS sem estabilidade de equipas presta piores cuidados, tem menor segurança para o doente e incorre em maiores custos financeiros e sociais. A política de “medidas avulsas” e remendos salariais é perigosa. A curto prazo permite o anúncio político; a médio prazo degrada o sistema; a longo prazo quebra a confiança do cidadão, transformando o direito constitucional à saúde numa corrida de obstáculos.
Menos ficção, mais realidade
O SNS não falha porque o inverno “surpreende” todos os anos. O inverno é previsível. O que falha é a insistência do Estado em fingir que o SNS tem reservas estratégicas.
Os dados estão à vista. A ERS quantifica a derrapagem, o CFP confirma a pressão financeira e a Europa sinaliza a crise de recursos. Insistir em planos que exigem uma elasticidade inexistente não é prudência política, é negligência.
A falência do sistema não é uma figura de retórica. Significa pessoas à espera de diagnósticos oncológicos; significa macas do socorro pré-hospitalar retidas nas urgências; significa profissionais em burnout e cidadãos limitados no acesso à saúde.
Um país sério não pode aceitar que o seu Serviço Nacional de Saúde funcione em modo de gestão de rutura permanente. O SNS não precisa de mais planos sazonais ou de contingência para gerir a miséria. Precisa de um choque de realidade. Precisa de decisões difíceis, mas estruturais, que a tutela não cumpre:
Carreiras que garantam valorização e desenvolvimento profissional que travem a sangria de profissionais.
Condições de trabalho que vão além do salário. É preciso previsibilidade de horários, respeito pela vida pessoal e proteção das equipas.
Camas que funcionam com capacidade assistencial, resposta domiciliária e comunitária robusta e circuitos que libertem a urgência por via da eficiência, não por via administrativa.
Assumir que um plano dependente de recursos inexistentes é apenas um texto bem formatado.
O Estado já tem os relatórios. Tem os dados. Tem a evidência. Falta-lhe a coragem de agir em conformidade com o que as suas próprias fontes revelam. Quando a contingência é permanente, deixa de ser contingência e passa a ser política. E uma política que normaliza a falha não serve o país; serve apenas para perpetuar a agonia de um sistema que, sem oxigénio, deixará inevitavelmente de respirar.