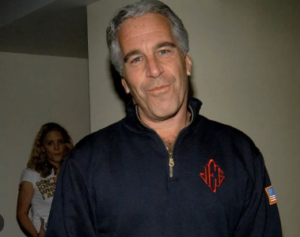Sexta-feira 13 de janeiro, pela primeira vez na vida, fiz greve. A sala ficou vazia, os sumários por escrever, a matéria por dar, as dúvidas por esclarecer. Nos meus anos mais jovens e impressionáveis, também eu era daqueles que snobavam dos professores – que eram ignorantes, mal preparados, partidários de uma certa linha política que não era – e continua a não ser – a minha. E, como em todas as profissões, muitos ainda o serão. Mas a experiência da vida ensinou-me, entretanto, algumas coisas (confirma-se o paradoxo: quem mais ensina, mais aprende). Permitam-me a lição.
Lidamos diariamente com turmas de aproximadamente trinta alunos, dos quais uma pequena percentagem (em média, cinco) estão manifestamente impreparados, não se interessam nem se esforçam e são, em muitos casos, indisciplinados. Mas, praticamente, não os podemos chumbar. Em vez disso, preenchemos relatórios de apoio à aprendizagem, disponibilizamos explicações gratuitas na escola (às quais muitos afirmam abertamente não quererem comparecer) e aplicamos medidas pedagógicas diferenciadas. Em vez de elevarmos os alunos às matérias, tidas como padrão dos conhecimentos a adquirir, “moldamos” os conteúdos à sua medida. Ou seja, baixamos o nível. Se um aluno do ensino profissional obtém classificação negativa no final de um módulo, temos de fazer um teste de recuperação, por lei. Sabendo disto, muitos deles entregam as avaliações, que deveriam durar dois tempos letivos e que demoram em média quatro horas a preparar, cerca de dez minutos depois do começo da aula, obtemperando que “o professor é obrigado a fazer outro teste para eu passar” (aconteceu-me: chumbei-o).
À disciplina que leciono, Português, cada aluno tem de ser avaliado em oito parâmetros individuais, a que correspondem, nos primeiros seis casos, avaliações formais: educação literária, compreensão de texto, gramática, redação, compreensão oral, expressão oral, participação e atitudes. Isto significa, pelo menos, doze avaliações por período e dezasseis itens de grelha para preencher. Demoro perto de uma hora a corrigir um teste. Tenho cento e vinte alunos. Evidentemente, há ainda que preparar as aulas, redigir as atas das reuniões, ler os relatórios de apoio, enviar materiais complementares e esclerecer dúvidas online, dinamizar a Cidadania e o PES (mais grelhas para preencher…).
Em resumo: os professores não têm fins-de-semana. Os professores não têm feriados. Os professores não têm manhãs ou tarde livres, porque a prática docente não se esgota nas quatro paredes de uma sala de aula, nem na simetria retangular das horas letivas estampadas numa folha de excel. O e-mail nunca dorme: o aluno X faltou ao teste, é preciso fazer outro; a encarregada Y quer saber porque motivo o educando teve 14 em vez de 15; escasseiam N apoios para alunos com “classificação inferior a dez” (ainda não referi o policiamento da linguagem? O termo “negativa” é estigmatizante e, como tal, deve ser evitado…). Nos cursos profissionais, não nos pagam as horas extra, que correspondem tipicamente a um período letivo. Temos obrigações contínuas de formação, entre mestrados e ações diversas, que conciliamos, o melhor que conseguimos, com a prática letiva. Somos colocados longe de casa e não temos apoios à deslocação. Um exemplo concreto: gasto, por semana, aproximadamente 100€ em combustível e 25€ em portagens para trabalhar. Grosso modo, metade do meu salário. Mas sou um privilegiado, porque não tenho de pagar uma renda de casa adicional, ao contrário de tantos colegas. Estamos irmanados na miséria.
Conta-se que outrora no Japão, a única classe profissional que não se curvava diante do Imperador eram os professores. Mesmo o eleito de Deus na terra para governar sabia que sem eles nada poderia atingir. Verdade ou mito, a história significa apenas o seguinte: a profissão era respeitada. Não pedimos mais.
Finalmente, para quem de tudo isto discorde, fica a pergunta: se os professores são todos uns mandriões acríticos que fazem greve como carneiros a mando dos sindicatos, como por este país se escreve e arrota, como explicar uma tão superabundante carência de quadros na profissão, que se vai agravar (e muito) nos próximos anos? O mercado não mente – e, hoje em dia, ninguém quer ser professor. Ou, dito claramente: a profissão é uma escravatura. Perguntava-me recentemente uma colega porque motivo os mais jovens ainda escolhem esta vida. Não lhe levei a mal: a justeza das suas palavras era evidente. Nem tão-pouco lhe soube responder. Trata-se de uma questão em que cada professor deve meditar o melhor que puder. Até que a solução seja óbvia para todos.