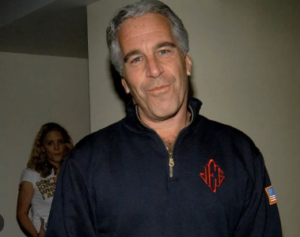Quando a 28 de março Abdul Bashir matou a sangue frio duas mulheres no Centro Ismaili de Lisboa, ferindo também gravemente um professor do centro, o país assistiu a uma tentativa sem precedentes de branqueamento do autor e das motivações deste ato atroz. Numa campanha iniciada nos media, mas rapidamente seguida por dirigentes políticos e os habituais comentadores a soldo do regime, foram-nos impostas duas ideias principais: a primeira, e sem ainda nenhum dado em concreto sobre o que realmente acontecera, é que não tinha sido um ato terrorista. A segunda, e apelando à emoção das massas, é que o autor era alguém perturbado mentalmente, que tinha perdido a mulher num campo de refugiados na Grécia, pai de dois filhos, numa situação desesperada. Sobre as verdadeiras vítimas, as duas mulheres que morreram, e o professor gravemente ferido, pouco mais se soube do que os seus nomes, numa inenarrável tentativa de desculpabilização do ato e do seu autor.
Mais uma vez, e como vem sendo habitual quando se trata de violência com alguma ligação ao islamismo, os silêncios foram ensurdecedores por parte da esquerda e os defensores das suas principais bandeiras. Onde estavam nesta ocasião os feministas? Onde estavam os defensores das mulheres? Onde estavam os críticos da violência de género? Onde estavam os críticos das culturas machistas que consideram as mulheres meros objetos e acessórios? Alguém os ouviu condenar este ato?
Longe de ser inédita, esta condescendência da esquerda com a violência islâmica, mais ou menos radical, tornou-se um padrão. Basta lembrar a reação de algumas figuras e intelectuais de esquerda aos atentados do 11 de setembro de 2001: José Saramago, Mário Soares, Oliver Stone, Ted Turner, entre muitos outros, mostraram mais condescendência e ambiguidade, na tentativa de justificar tamanha barbárie, do que propriamente uma firme condenação, como seria de esperar. No atentado de janeiro de 2015 ao «Charlie Hebdo», assim como nos massacres de Paris de novembro do mesmo ano, as reações de certos setores da esquerda não foram muito diferentes, sendo uma das explicações mais recorrentes para tamanha barbárie (149 mortos nos dois ataques e mais de 352 feridos) «a falta de integração da comunidade muçulmana em França e o passado colonial do país»!
Mas, se o islamismo radical e violento representa, e em teoria, a antítese daquilo que a esquerda defende, como explicar esta benevolência e colaboração com este radicalismo islâmico transnacional?
A resposta radica em duas razões principais: a primeira, prende-se com a perda do chamado eleitorado tradicional da esquerda. As classes operárias ao sentirem-se enganadas com as habituais promessas utópicas nunca concretizadas da esquerda, ou então pela sua ascensão social, passaram a votar em outros partidos do espetro político, abrindo um fosso eleitoral que tinha de ser rapidamente substituído por outra classe de «oprimidos» e «deserdados do capitalismo».
A segunda razão é a afinidade ideológica em relação a conceitos típicos de ideologias totalitárias que odeiam o Ocidente e a cultura judaico-cristã: o Estado absoluto, sagrado e todo-poderoso, que elimina de forma arbitrária qualquer oposição. O pós-colonialismo, como explicação falsa do falhanço político-económico e social de diversos Estados. O anticapitalismo e, naturalmente, o multiculturalismo.
É nesta espécie de aliança transnacional, entre a esquerda e a extrema-esquerda, e o islamismo radical, que a Europa enfrenta um dos maiores desafios à sua segurança e identidade cultural. Só a obliteração política destes partidos, e uma política migratória regulada e vigilante, poderá salvar a Europa e o Ocidente de um colapso que pode estar mais perto do que aquilo que muitos pensam.