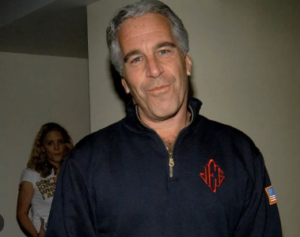A reorganização da Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria é uma das decisões mais sensíveis que o Estado pode tomar em matéria de saúde. Não se trata de uma mera atualização técnica nem de um exercício académico. Trata-se de uma opção estrutural que define, de forma muito concreta, onde e como as crianças acedem aos cuidados de saúde, em que tempo, com que segurança e com que grau de proximidade.
É por isso que esta matéria não pode ser discutida em circuito fechado, nem protegida por uma aura de autoridade técnica que dispense escrutínio. Em saúde, sobretudo em pediatria, a legitimidade das decisões constrói-se com transparência, evidência e responsabilidade pública.
A proposta agora apresentada reconhece, desde logo, algo que os cidadãos conhecem bem: existem assimetrias regionais relevantes no acesso aos cuidados pediátricos. Reconhece também a necessidade de monitorizar tempos de acesso, tempos de espera e transferências inter-hospitalares. Estes dois pontos são fundamentais, porque revelam que o risco de desigualdade e de atraso não é teórico, é real e assumido no próprio documento.
Ora, quando uma proposta parte deste diagnóstico, o ónus da prova é claro: cabe a quem decide demonstrar que a solução não agrava as desigualdades existentes e que melhora efetivamente o acesso em todo o território, e não apenas nos grandes centros urbanos.
Uma rede nacional não pode ser avaliada pela média. Tem de ser avaliada pelos extremos. Pelos territórios periféricos, pelas populações mais afastadas, pelas regiões onde uma decisão administrativa se traduz rapidamente em mais quilómetros, mais tempo de deslocação e maior dependência de transferências. Em pediatria, o tempo não é uma variável neutra. É um determinante clínico.
É aqui que começam as perguntas incómodas, mas necessárias.
Que critérios foram usados para classificar as unidades hospitalares? Como foram aplicados a realidades tão distintas? Com que ponderação relativa entre recursos humanos, casuística, capacidade instalada, acessibilidade geográfica e resposta em urgência? Onde está a fundamentação que permite a qualquer cidadão, ou a qualquer instituição, perceber por que razão uma unidade é classificada de uma forma e outra de forma diferente?
A transparência dos critérios não é um detalhe burocrático. É uma condição mínima de confiança pública. Sem critérios claros e comparáveis, não há como distinguir decisão técnica de decisão arbitrária.
Há depois a questão do impacto territorial. A proposta prevê monitorização futura de tempos e transferências, mas não é claro que tenha existido uma análise prévia, robusta e desagregada, que compare a situação atual com a rede proposta. Sem essa análise, avança-se com uma reorganização estrutural sem prova de que o acesso não piora em determinadas regiões. Monitorizar depois não substitui avaliar antes.
Outro ponto central é a exequibilidade. Uma rede pediátrica segura não funciona apenas com classificações e mapas. Funciona no terreno, todos os dias, com equipas, coordenação clínica e capacidade operacional. Se a rede implica maior concentração de cuidados diferenciados, isso significa, inevitavelmente, mais transferências inter-hospitalares pediátricas e neonatais. E isso exige capacidade real: equipas suficientes, cobertura permanente, tempos de ativação compatíveis com a segurança clínica.
Desenhar uma rede sem garantir, ou pelo menos identificar formalmente, as necessidades adicionais de transporte e de recursos é criar um risco sistémico. Mesmo que a execução caiba ao Ministério da Saúde, quem desenha a rede tem o dever de a desenhar exequível.
Há ainda uma dimensão frequentemente desvalorizada: a multidisciplinaridade. As boas práticas nacionais e internacionais são claras. Redes pediátricas seguras exigem equipas integradas, percursos do doente bem definidos e articulação efetiva entre diferentes áreas profissionais. A multidisciplinaridade não pode ser apenas uma palavra num documento. Tem de estar visível no modelo, nos contributos considerados e nas opções tomadas.
Quando isso não é claro, a pergunta impõe-se: que contributos formais, estruturados e documentados foram integrados no desenho da rede? Por que via? E onde se refletem concretamente no texto final?
Por fim, a governação e a confiança pública. Em vários pontos do país surgiram dúvidas e perceções de favorecimento de determinados centros. Não cabe validar suspeições, mas cabe dissipá-las. E isso só se faz com regras claras de transparência: declarações formais de interesses, mecanismos de impedimento quando aplicável e decisões rastreáveis.
A saúde das crianças exige mais do que boa intenção e experiência acumulada. Exige critérios claros, dados acessíveis, decisões escrutináveis e coragem política para corrigir o que não funciona.
O CHEGA defende um Serviço Nacional de Saúde que sirva todos por igual, sem opacidade, sem decisões tomadas em circuito fechado e sem territórios deixados para trás. Uma rede pediátrica só cumpre o seu papel se aproximar os cuidados das pessoas, reduzir desigualdades e garantir segurança clínica em todo o país.
Sem transparência não há confiança. Sem confiança não há rede. E sem acesso efetivo, não há SNS que resista.