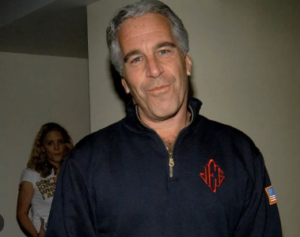Nos últimos 200 anos, desde o advento do Constitucionalismo Liberal, que todos os regimes políticos entraram em falência a partir do momento em que se divorciaram do país real, que os tinha colocado no poder. É o que estamos a assistir novamente em Portugal.
A primeira experiência liberal portuguesa (1820-1822), terminou quando os políticos de Lisboa, redigiram um texto constitucional que não representava o povo português, na sua generalidade monárquico e católico.
Da mesma forma, a I República cai porque incorre no erro fatal de hostilizar a Igreja, proibindo procissões e limitando a liberdade de culto em nome de uma suposta separação do Estado face à Igreja. O Partido Republicano Português (PRP), que se agarrou à máquina do Estado, fazendo dele o seu feudo partidário, confundiu laicismo com anticlericalismo, e para satisfazer meia-dúzia de intelectuais progressistas, perdeu o país real, que se fartara de desordem e miséria, e apoiará em peso a solução autoritária trazida pelo 28 de Maio.
Por outras razões, mas seguindo sempre a linha analítica do desfasamento entre os governos e o povo, não deixa de ser paradigmático também observarmos o fim do Estado Novo, sobretudo no consulado Marcelista, sob a ótica de um divórcio entre as suas elites e o povo comum. Os anos turbulentos que se iniciam com o golpe do 25 de Abril, podem ser vistos como a erupção política de um país que há muito tempo se encontrava em letargia, no «viver habitualmente», como dizia Salazar. Naturalmente que a panela de pressão, ao rebentar, faz estragos; e a benignidade aparente das ideias que então começam a ser divulgadas por múltiplos atores, contrastava e de que maneira com a violência selvática dos seus atos.
Demorou dois anos até o país se encontrar consigo mesmo e o ambiente político serenar um pouco. Penso que nunca terá havido bem uma «conciliação nacional», mas que terá antes havido um adormecimento das tensões políticas, que durante décadas estiveram mais subterraneamente presentes, nas esferas internas dos partidos então constitucionalmente aprovados.
Chegados aos nossos dias e uma vez feito este brevíssimo diagnóstico, cumpre tecer algumas considerações acerca daquilo que dizia no início. Como noutros tempos, também hoje sente-se latente no âmago da sociedade portuguesa um descontentamento, já não meramente conjuntural ou circunstancial, mas antes verdadeiramente mais profundo, mais estrutural. O PS, com os vícios de quem está há demasiado tempo no poder, agarrou-se como uma lapa ao aparelho do Estado, numa promiscuidade que nos lembra os tempos da I República. O PS e o Estado confundem-se hoje num só. E por isso, operou-se um esgotamento do partido e do governo. Há uma gestão avulsa do país, uma navegação à vista, uma degradação acentuada das instituições.
Andar pelo país faz muita falta aos políticos. Só assim se conhecem os anseios, as necessidades e os problemas das populações. O CHEGA, pelo trabalho parlamentar e presença nas ruas, marca a diferença. Vai onde ninguém mais vai, escuta e representa
aqueles que sentem que o Estado os esqueceu e que os governos os ignoram. Esses são, na verdade, o povo comum, a maiosia silenciosa, o país real. Serão esses, anónimos como sr. Fernando, que me serve a bica todos os dias de manhã ao balcão, como a dona Inês, que todos os domingos encontro na Missa, como Mestre Américo, que não votava há tantos anos e que me dizem – «o Ventura, a única oposição, está lá por nós, e nós não faltaremos à chamada, quando chegar o dia de estarmos com ele no voto».
É este país, que não abre os telejornais nem recebe os holofotes mediáticos, é esta gente honesta e de trabalho, é este povo esquecido e incompreendido pela classe política aquartelada em S. Bento, que vai operar a maior transformação política dos últimos 50 anos em Portugal.
A IV República chegará – é uma inevitabilidade; resta saber se em 2026, se mais cedo. Cá estaremos, para maior missão das nossas vidas: a Reconstrução Nacional.